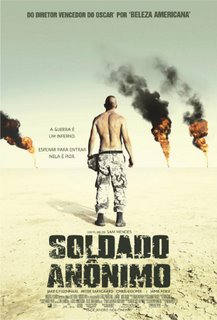Munique

“Polêmico”? “O filme mais corajoso de Steven Spielberg” (Cinema em Cena)? “Uma investigação provocadora sobre o terrorismo” (Terra)? Nem tanto. Segundo o diretor, seu novo longa, inspirado no atentado sofrido pela delegação de atletas israelenses por terroristas árabes durante as Olimpíadas de Munique, Alemanha, em 1972, é uma “oração pela paz”. Para mim, toda essa aclamação soa como muito barulho por pouca coisa – o que, aliás, é frequente no caso do cineasta em questão. Munique (Munich, Alemanha/Israel, 2005) trata de um tema vital e até tem uma boa abordagem, que evita os maniqueísmos. O que frustra é a impressionante capacidade de Spielberg em fazer de qualquer caso sério um pano de fundo para algo que não ultrapasse muito a complexidade de um filme de suspense-ação. Não digo que ele foi medíocre na forma de enxergar a questão, ou que se omitiu às discussões que ela levanta. Mas depois de ver um filme com a assinatura de Steven Spielberg costumo ter a sensação de que faltou algo (calma aficcionados, para tudo na vida há exceções, não me refiro a pérolas como Império do Sol, E.T. ou A Lista de Schindler, obras que nem eu ouso questionar). Sinto falta daquele subtexto, das idéias guardadas nas entrelinhas - a parte do filme que sobra para o espectador criar em sua mente. Spielberg, de alguma forma, não deixa espaço para tanto, daí a impressão frequente que me passa de nunca se afastar demais da superfície.
Sem dúvida alguma o diretor domina a técnica e a narrativa com pefeição. Mas essa habilidade rara acaba fatalmente se sobrepondo às idéias que ele explora em seus enredos. A reconstituição de época em Munique é excepcional, acrescentada de forma absolutamente adequada pela fotografia, que parece nos transportar para a época. A inserção de imagens reais, retiradas de noticiários e afins, é importante para criar no público a tensão e a consciência inteligível, quase física, de que estamos em contato com um acontecimento verídico e que ainda perturba.
Após o atentado que culminou no assassinato de onze atletas israelenses pelos palestinos - dois ainda no hotel, nove no aeroporto - e cinco dos terroristas mortos em uma tentativa de ação alemã, a então primeira ministra de Israel decide contra-atacar, para mostrar aos inimigos que “matar judeus sai caro”. Então, um grupo secreto, liderado por Avner (Eric Bana, competente) que, apesar de ligado ao Mossad, não podia revelar qualquer relação com o governo israelense, é destacado para matar cada um dos que tramaram o ocorrido na Alemanha. E tem início um thriller que toca em questões políticas e diplomáticas, como o envolvimento da CIA no Oriente Médio, a exigência de não atingir civis, o que seria desfavorável para a imagem de Israel, o dinheiro americano dado aos judeus, o perigo de atingir a Rússia em época de guerra-fria e, acima de tudo, como um conflito pode ter mais do que duas pontas, onde supostos aliados estão longe de ser incondicionais. Spielberg lança seu olhar sobre uma questão complexa, para a qual o mundo ainda não conhece respostas, e não tenta nos jogar para um dos lados da briga.
Em momento algum o diretor condena claramente o atentado de Munique, embora não disfarce o seu horror. Mas evidencia como aquilo foi intolerável para os israelenses. Durante os momentos de expectativa enfatiza o sofrimento dos dois lados: famílias judias e palestinas, esperando pelo fim de um ataque terrorista televisionado, com perdas para ambos. E aí caímos nas recorrentes e infindáveis questões do tema. Aquele tipo de ação se justificaria por tratar-se de um artifício para os palestinos serem ouvidos? Aquele povo sem pátria luta para recuperar o que acreditam ser a sua nação, que é o lar, a identidade de um povo. Estão fazendo agora o que Israel fez para conseguir seu território: é uma espécie de sucessão histórica nessa briga, por motivos questionáveis, mas que não são facilmente condenáveis. É um círculo que nunca chega ao fim, alimentado por um ódio que move atos extremos - dotados de legitimidade moral, segundo creem seus participantes.
“O lar é caro”, diz um personagem em certo momento. E Avner sentirá o peso dessas palavras quando começar a questionar o sentido de suas ações. Tudo aquilo é desculpável, é certo, justo? Nosso herói não tem certeza de que a lista de nomes a serem exterminados, dada pelo Mossad, é realmente dos que estiveram por trás de Munique. Aqueles podem ser apenas interessantes alvos políticos. “Matando-os, judeus sobrevivem” e não é isso o que mais importa? O protagonista e sua equipe são apenas outro dentre tantos grupos tratando do problema. Mas assassinar todos os que ameaçam a segurança de seu povo não é apenas fazer com que eles sejam substituídos por outros piores? No fim, terroristas árabes e Avners são farinha do mesmo saco: matadores dentro de uma guerra onde é impossível apontar um lado bom e um lado mal, retribuindo ataques e injúrias. São geradores de mortes em nome de uma causa que acreditam ser legítima, mas que vai atormentar o protagonista para sempre, até que, no fim, ele escolha se exilar de vez na América, onde poderá, quem sabe, encontrar paz, num lar aparte dos conflitos – o que, convenhamos, foi de péssimo gosto.
Por mais que possamos compreender o que se passa no interior do protagonista, isso não é suficiente para que ele estabeleça uma ligação forte com o público. A trama, com quase três horas, abarrotada de sequências de ação e suspense que intencionam ser tensas e pesadas, parece às vezes sempre a mesma coisa, e isso cansa. A história cheia de segredos cruzados e pontos misteriosos não pretende dar respostas às suas teorias conspiratórias, porque não trata de um caso simples. O tema vai muito além do atentado que impulsiona o enredo e do que o próprio filme engloba. O problema é denso. Quem continua na superfície é o diretor, que aqui até consegue incomodar às vezes, mas não a ponto de te puxar para o fundo. Munique é o que se pode esperar e não mais do que nos acostumamos a ver nos últimos tempos de Steven Spielberg. Alguns podem alegar que sua nova obra tem algo de diferente, mas a verdade é que o espírito continua o mesmo: falta alguma coisa. Em suma, nome demais para resultado de menos.
Sem dúvida alguma o diretor domina a técnica e a narrativa com pefeição. Mas essa habilidade rara acaba fatalmente se sobrepondo às idéias que ele explora em seus enredos. A reconstituição de época em Munique é excepcional, acrescentada de forma absolutamente adequada pela fotografia, que parece nos transportar para a época. A inserção de imagens reais, retiradas de noticiários e afins, é importante para criar no público a tensão e a consciência inteligível, quase física, de que estamos em contato com um acontecimento verídico e que ainda perturba.
Após o atentado que culminou no assassinato de onze atletas israelenses pelos palestinos - dois ainda no hotel, nove no aeroporto - e cinco dos terroristas mortos em uma tentativa de ação alemã, a então primeira ministra de Israel decide contra-atacar, para mostrar aos inimigos que “matar judeus sai caro”. Então, um grupo secreto, liderado por Avner (Eric Bana, competente) que, apesar de ligado ao Mossad, não podia revelar qualquer relação com o governo israelense, é destacado para matar cada um dos que tramaram o ocorrido na Alemanha. E tem início um thriller que toca em questões políticas e diplomáticas, como o envolvimento da CIA no Oriente Médio, a exigência de não atingir civis, o que seria desfavorável para a imagem de Israel, o dinheiro americano dado aos judeus, o perigo de atingir a Rússia em época de guerra-fria e, acima de tudo, como um conflito pode ter mais do que duas pontas, onde supostos aliados estão longe de ser incondicionais. Spielberg lança seu olhar sobre uma questão complexa, para a qual o mundo ainda não conhece respostas, e não tenta nos jogar para um dos lados da briga.
Em momento algum o diretor condena claramente o atentado de Munique, embora não disfarce o seu horror. Mas evidencia como aquilo foi intolerável para os israelenses. Durante os momentos de expectativa enfatiza o sofrimento dos dois lados: famílias judias e palestinas, esperando pelo fim de um ataque terrorista televisionado, com perdas para ambos. E aí caímos nas recorrentes e infindáveis questões do tema. Aquele tipo de ação se justificaria por tratar-se de um artifício para os palestinos serem ouvidos? Aquele povo sem pátria luta para recuperar o que acreditam ser a sua nação, que é o lar, a identidade de um povo. Estão fazendo agora o que Israel fez para conseguir seu território: é uma espécie de sucessão histórica nessa briga, por motivos questionáveis, mas que não são facilmente condenáveis. É um círculo que nunca chega ao fim, alimentado por um ódio que move atos extremos - dotados de legitimidade moral, segundo creem seus participantes.
“O lar é caro”, diz um personagem em certo momento. E Avner sentirá o peso dessas palavras quando começar a questionar o sentido de suas ações. Tudo aquilo é desculpável, é certo, justo? Nosso herói não tem certeza de que a lista de nomes a serem exterminados, dada pelo Mossad, é realmente dos que estiveram por trás de Munique. Aqueles podem ser apenas interessantes alvos políticos. “Matando-os, judeus sobrevivem” e não é isso o que mais importa? O protagonista e sua equipe são apenas outro dentre tantos grupos tratando do problema. Mas assassinar todos os que ameaçam a segurança de seu povo não é apenas fazer com que eles sejam substituídos por outros piores? No fim, terroristas árabes e Avners são farinha do mesmo saco: matadores dentro de uma guerra onde é impossível apontar um lado bom e um lado mal, retribuindo ataques e injúrias. São geradores de mortes em nome de uma causa que acreditam ser legítima, mas que vai atormentar o protagonista para sempre, até que, no fim, ele escolha se exilar de vez na América, onde poderá, quem sabe, encontrar paz, num lar aparte dos conflitos – o que, convenhamos, foi de péssimo gosto.
Por mais que possamos compreender o que se passa no interior do protagonista, isso não é suficiente para que ele estabeleça uma ligação forte com o público. A trama, com quase três horas, abarrotada de sequências de ação e suspense que intencionam ser tensas e pesadas, parece às vezes sempre a mesma coisa, e isso cansa. A história cheia de segredos cruzados e pontos misteriosos não pretende dar respostas às suas teorias conspiratórias, porque não trata de um caso simples. O tema vai muito além do atentado que impulsiona o enredo e do que o próprio filme engloba. O problema é denso. Quem continua na superfície é o diretor, que aqui até consegue incomodar às vezes, mas não a ponto de te puxar para o fundo. Munique é o que se pode esperar e não mais do que nos acostumamos a ver nos últimos tempos de Steven Spielberg. Alguns podem alegar que sua nova obra tem algo de diferente, mas a verdade é que o espírito continua o mesmo: falta alguma coisa. Em suma, nome demais para resultado de menos.